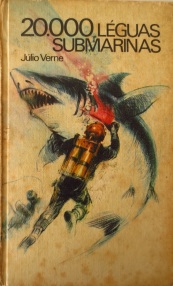Transcrevo na íntegra, em vez de incluir ficheiro, porque já sei que é a melhor forma de ser lido na íntegra por mais pessoas.
Os rankings das escolas e os seus perigosos equívocos
Este texto tem sobretudo um propósito: desconstruir as representações perniciosas da maioria das opiniões pública e publicada que resultam da divulgação dos chamados rankings das escolas. Recordo que estes rankings (reparem que o anglicismo remete-nos logo para uma ideia de competição) têm sido disponibilizados ao público, nos últimos anos, pelo Ministério da Educação e fazem uma seriação hierarquizada das escolas portuguesas a partir da ponderação dos resultados que os seus alunos obtiveram nos exames nacionais do ensino básico (4.º, 6.º e 9.º anos) e secundário (11.º e 12.º anos).
Creio bem que estes rankings inoculam interpretações enganadoras na opinião pública, porquanto são divulgados pelos media de forma redutora e enviesada.
A forma como são noticiados resulta, afinal, da «civilização do espetáculo» em que vivemos (para utilizar o título de um excelente ensaio de Mário Vargas Llosa sobre os descaminhos do jornalismo, da política, da arte e da cultura contemporâneas, editado em 2014), que está formatada para entreter e distrair o público e não para estimular a sua reflexão; está apenas formatada para exibir a aparência e desprezar a essência das coisas. Em última análise, no mundo atual em que vivemos, contaminado por uma tendência para diabolizar os serviços públicos, é legítimo presumirmos que a forma descontextualizada como são divulgadas estas listas de classificações das escolas pode favorecer ou mesmo obedecer a uma agenda ideológica neoliberal, mais ou menos oculta, que visa descredibilizar o ensino público e fazer a apologia do ensino privado.
Qual é, então, a leitura que a maioria da opinião pública e publicada faz destes rankings? Como várias escolas particulares se encontram no topo destas listas, infere que as escolas particulares oferecem um ensino mais competente do que as escolas públicas, porque permite aos seus alunos a obtenção de classificações médias mais elevadas. Curiosamente, estas representações optam por ignorar, ostensivamente, que muitas escolas privadas surgem também colocadas nos lugares medianos e até inferiores destas listas.
Evidentemente, importa explicar porque lideram estes rankings algumas escolas particulares — nomeadamente, alguns colégios particulares independentes, confessionais ou laicos, e/ou certos colégios particulares e cooperativos, laicos ou confessionais, os quais, interessa aqui enfatizar, apesar de serem privados, beneficiam de pródigos financiamentos estatais. Acrescente-se, a este propósito, que estes financiamentos resultam de parecerias público-privadas que neste caso — e em tantos outros existentes em outras áreas da vida portuguesa — têm suscitado grandes desconfianças por parte dos cidadãos. Basta recordarmos as histórias exemplares relativas à criação e funcionamento dos colégios privados do poderoso grupo GPS, que foram denunciadas pela TVI, numa incontestável reportagem feita pela jornalista Ana Leal. Pena é que essa desconfiança não se traduza numa intervenção inequívoca do Governo, no sentido de suprimir definitivamente essas parcerias ou, no mínimo, torná-las absolutamente transparentes.
As razões de algumas escolas privadas liderarem estes rankings são várias e não resultam, necessariamente, da qualidade do ensino que oferecem.
Todos os colégios particulares que se encontram no topo destas listas, ao contrário das escolas públicas, não são socialmente transversais ou interclassistas. Dito de outro modo: pelo menos no primeiro ciclo do ensino básico e no ensino secundário, excluem dos seus estabelecimentos alunos de origens socioeconómicas mais baixas; concretamente, rejeitam alunos economicamente carenciados, porque os seus encarregados de educação não têm possibilidades de pagar as elevadas propinas que estas escolas cobram pelas matrículas dos seus alunos nestes níveis de ensino, e além disso raramente aceitam alunos com Necessidades Educativas Especiais. Por conseguinte, não praticam um ensino inclusivo, democrático e muito menos massificado. Têm, por isso, menos alunos, embora melhores alunos a realizarem exames nacionais, e fazem ainda uma triagem mais rigorosa dos alunos que se propõem aos exames. Por exemplo: vários destes estabelecimentos têm o hábito de não levarem todos os seus alunos a exame, porque forçam os mais fracos a reprovar ou, no caso do ensino secundário, a anular as matrículas e a inscreverem-se como alunos autopropostos nos exames das escolas públicas.
Mas quem são então esses alunos das escolas privadas? São uma elite social privilegiada: filhos de pais dotados de situação económica média-alta e alta, que, por isso, proporcionam aos seus filhos explicações a quase todas ou mesmo a todas as disciplinas em que estes últimos se propõem fazer exames; filhos de pais que têm uma formação académica e cultural acima da média nacional, condição que lhes permite ofertar aos seus filhos acesso a livros, periódicos, viagens, cinema, música, teatro, exposições, visitas a museus, etc.; filhos de pais que vivem, em regra, nas zonas residenciais privilegiadas das cidades mais desenvolvidas nos planos socioeconómico e cultural; enfim, filhos de pais que, geralmente, levam muito a sério o sucesso educativo quantificado dos filhos, por isso matriculam-nos nestes estabelecimentos e dão-lhes um apoio muito personalizado no seu processo educativo e instrutivo.
Importa ainda analisar esta questão sob outros ângulos, porventura ainda menos consensuais.
Parece-me lógico e legitimo avaliar também a qualidade de uma escola a partir das suas práticas educativas bem como da análise dos currículos dos seus professores (média de licenciatura, mestrado ou doutoramento obtidos em universidades credenciadas, experiência educativa medida em tempo de serviço, projetos educativos em que participaram e trabalhos publicados): ora, eu não tenho dúvidas em afirmar aqui que os professores com melhores médias profissionais estão sobretudo concentrados nas escolas públicas, para onde concorreram e entraram através de concursos nacionais. Ao contrário, salvo algumas honrosas exceções, os professores com piores currículos profissionais lecionam nas escolas particulares (sejam elas colégios particulares independentes ou colégios particulares e cooperativos), onde ingressaram através de processos que estão, infelizmente, longe de serem objetivos, transparentes e imparciais.
A maioria esmagadora das escolas particulares inflacionam generosamente as suas classificações internas para atraírem mais alunos e deste modo garantirem mais propinas e aumentarem os seus apoios financeiros do Estado. Todos nós conhecemos casos de alunos que se transferiram, a meio do ano letivo, das escolas públicas para as escolas privadas e nesse mesmo período ou ano letivo as suas avaliações dispararam incompreensivelmente. Esta afirmação não resulta apenas de uma constatação empírica, pois foi já objetivamente comprovada por um estudo divulgado em 2014 por investigadores da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Estes docentes analisaram, ao longo de 11 anos, mais de três milhões de classificações de exames nacionais, cruzando depois estes dados com as respetivas classificações internas dos alunos. Ora, a conclusão destes investigadores de que as avaliações internas das escolas privadas são bem mais inflacionadas do que as avaliações internas das escolas públicas levanta, obrigatoriamente, uma gravíssima questão de equidade e justiça, que deveria merecer a preocupação e a reflexão do Ministério da Educação. Por conseguinte: nas candidaturas para o ensino superior, os alunos que frequentam as escolas privadas encontram-se numa situação de acentuada vantagem relativamente aos alunos do ensino público e tal facto contribui para reproduzir e consolidar as desigualdades socioeconómicas do país.
Sabemos que muitas escolas particulares têm a política educativa pragmática de treinar os alunos exclusivamente para obterem bons resultados nos exames, com prejuízo da transmissão de conteúdos e valores complementares que ultrapassam as aprendizagens formais – o que, não sendo uma opção educativa necessariamente errada, pode ser redutora e por isso discutível. Pois esta obsessão pelos exames não produzirá efeitos perversos? Estes professores e alunos, porventura ainda mais do que os professores e alunos das escolas públicas, vivem o ano todo pressionados com a espada dos exames, o que torna quase todas as suas aulas centradas nesse treino obsessivo para estas provas finais. E tal pressão leva-os a descurar práticas pedagógicas que promovam o gosto pela leitura, pela escrita, pelo cálculo, enfim, pela busca desinteressada do conhecimento. Por outro lado, muitas escolas particulares obrigam os seus professores, sobretudo os mais jovens, que estão em escalões mais baixos, a aceitar horários ilegais, providos com demasiados tempos letivos. Ora, na escola, como, de resto, noutros serviços públicos (como, por exemplo, nos hospitais e centros de saúde), demasiadas horas de trabalho podem significar pior prestação de serviço aos seus utentes. Aliás, saliente-se, a este propósito, que é isso mesmo que está também a acontecer nas escolas públicas, onde, nos últimos anos, os professores têm mais tempos letivos, mais e maiores turmas, mais alunos, maior número de piores alunos, em termos de aproveitamento e de comportamento. Esta situação afigura-se profundamente nociva, pois obriga os professores a prestarem um serviço educativo de pior qualidade. Porquê? Porque têm menos tempo para preparar as suas aulas e para oferecer aos seus alunos um ensino e uma avaliação rigorosos e individualizados. Ainda porque ficam mais desgastados com a lecionação de demasiadas horas diárias de aulas administradas a demasiados alunos cada vez com mais dificuldades de aprendizagem e com problemas comportamentais.
Em conclusão: os rankings das escolas apresentados e lidos de forma bruta são ardilosos, para não dizer mentirosos. Acredito que as escolas públicas, por terem, em regra, melhores professores e por serem dimensionadas para todos os alunos e não apenas para alguns, prestam melhor serviço cívico aos alunos e aos pais dos alunos, apesar das limitações e dos problemas bem maiores com que se confrontam os seus professores e diretores. Quais são esses problemas? Problemas relacionados com a dimensão excessiva ou a degradação acelerada dos edifícios de algumas dessas escolas. Problemas relacionados com a permanente instabilidade do seu corpo docente. Problemas cada vez mais graves de aproveitamento e comportamento dos seus alunos, que, na maioria dos casos, decorre de muitos pais se demitirem de educar em casa os seus filhos, ou decorre ainda da desestruturação de muitas famílias provocada pelo desemprego, a miséria, a iliteracia, a emigração, a ausência do agregado familiar, por razões profissionais, dos seus membros nucleares, ou pelos divórcios (recordo que, hoje, ocorrem em Portugal cerca de 3 divórcios por cada 5 casamentos).
Se dúvidas houvesse a propósito da importância e qualidade da maioria das escolas públicas, permitam-me citar um outro estudo feito também pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, em 2008-09, a partir de uma amostra do percurso académico de 4280 estudantes desta universidade, durante os primeiros três anos. Este estudo chegou à seguinte conclusão: nesse triénio de frequência universitária, os alunos provenientes das escolas particulares obtiveram piores resultados académicos do que os alunos oriundos das escolas públicas. Porquê? Entre outras razões, porque o desempenho dos estudantes no ensino superior requer capacidades que não são aquelas que dependem apenas de o aluno estar muito bem treinado para as matérias dos exames. Os alunos provenientes das escolas públicas, porque foram menos protegidos na sua vida social e académica e tiveram acesso a uma formação cívica mais convergente com o mundo real, estão dotados de melhores ferramentas para enfrentar a universidade e certamente o mundo do trabalho.
Dito isto, não pretendo concluir que as escolas públicas se devem acomodar, fazer como a avestruz, «meter a cabeça na areia» e ignorar os seus problemas. Evidentemente, elas confrontam-se hoje com desafios cada vez mais difíceis, que resultam muitas vezes das políticas erráticas impostas pelo Ministério da Educação — a este propósito, basta recordarmos o brutal desinvestimento feito, nos últimos anos, pelo Estado na escola pública, ou o que aconteceu com o processo de criação atabalhoada de muitos mega-agrupamentos, ou ainda os erros imperdoáveis cometidos no concurso nacional de professores, no início deste ano letivo, e o perigoso avanço para a municipalização da escola pública (que, aliás, aparece hoje como uma ideia nova, apesar de ter raízes em políticas educativas adotadas, com pouco ou nenhum êxito, desde o tempo da Monarquia Constitucional). Mas esses penosos desafios que se colocam à escola pública resultam também dos problemas complexos que afetam o mundo em geral e a sociedade portuguesa em particular, a qual vive há demasiados anos submersa numa crise económica, política e cultural profunda e aparentemente irresolúvel.
Uma observação final: obviamente, as escolas particulares têm todo o direito de existir numa sociedade livre e democrática. As famílias deverão ter sempre o direito de optar pelo ensino privado, bem entendido, desde que estejam dispostas a suportar integralmente as implicações económicas dessa decisão.
Luís Filipe Torgal, professor de História do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital